
Depois de décadas marcadas por governos ditadoriais, que praticaram diversas violações de direitos humanos, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai ainda têm muito a avançar. Depois de uma análise geral dos direitos humanos feita na primeira parte da entrevista, o especialista no tema e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio José María Gómez aprofunda a questão na América do Sul, e, especialmente, no Brasil. "O papel do país, em várias iniciativas no G20, no próprio BRICs, se movimentando em numerosos fóruns, lhe valeu uma projeção globalmente muito grande", afirma Gómez. Entretanto, na contramão, o Brasil ainda não desvendou por completo o próprio passado de violações, fato que provavelmente garantirá ao país uma sentença na Corte Interamericana de Direitos Humanos. "Não há página que se vire quando se trata de crimes do passado", conclui José María Gómez.
Portal PUC-Rio Digital: O senhor está realizando uma pesquisa sobre as ditaduras militares no países da América do Sul. Especificamente Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. De que forma o senhor faz uma análise geral desse período na região?
José María Gómez: Quando se trata de fazer qualquer exercício comparativo tem que ser levado em consideração a história de cada um. Creio que o percurso histórico de cada um desses países vai modelar muito as instituições, as práticas políticas, a cultura política. Certamente, os quatros países do Cone Sul tem características muito especificas em função das suas histórias. Mas, sem dúvida, também têm uma série de problemas e histórias comuns. Uma é essa de ter passado por um ciclo de ditadura militar de novo tipo. As experiências democráticas nesses países foram breves intervalos, mas, nunca havia tido um tipo de ditadura como essa, que se instalou na região, como desdobramento direto do acirramento dos conflitos da Guerra Fria do final da década de 1950 e início da de 1960. O Brasil foi o abre-alas em 1964. Em 1966, a Argentina. Na década de 1970, o Uruguai, em uma espécie de golpe discreto, mas de alta militarização. E, por último, o Chile, em 1973 e novamente a Argentina em 1976. Então, até meados dos anos 1980, quando se instalaram os governos civis, a gente vê que esses 20 anos de experiências ditatoriais foram muito fortes, com impactos de todos tipos. Os regimes foram repressivos pela escalada brutal da política sistemática de correção e implicaram milhares de vítimas: desaparecidos, torturados, assassinados, sem falar nas decisões arbitrárias e tudo o que implica a violência de um regime perpassando quase todas as esferas da vida social e individual, inclusive, por uma cultura do medo e da violência que se instala. Enfim, toda uma série de feridas que estão abertas até hoje, em todos esses países, mesmo que os efeitos de memória avancem ou não. Essas experiências ditatoriais deixaram suas marcas e elas estão muito visíveis. No comportamento de muitas agências desses Estados, na própria representação coletiva da sociedade e nas práticas políticas. Ou seja, a ditadura não foi apenas um regime, mas deixou um legado enorme. Essas heranças são mais esquecidas que lembradas.
 Portal: Quais as diferenças entre as ditaduras?
Portal: Quais as diferenças entre as ditaduras?
J.M.G: Evidentemente que os países, não apenas pela história, mas pelas próprias características de cada regime militar, se diferenciam em um princípio fundamental. Se diferenciam no aspecto repressivo e no alcance dessa repressão em função da envergadura dos conflitos internos: se eram, digamos, estratégias repressivas mais preventivas ou reativas. Enfim, toda uma série de diferenças que permite entender por que, por exemplo, o caso brasileiro teve menos vítimas do que nos outros três países. Mas não se mede o caráter repressivo pela quantidade de mortos e torturados. A violência passa por muitas outras dimensões, diferentes mecanismos de repressão. Houve diferentes economias e legados da repressão, que pesaram diferentemente em cada um desses países. Por outro lado, houve forte diferença das próprias políticas econômicas levadas à frente por esses países
Portal: Como foram esses processos de transição nos quatro países?
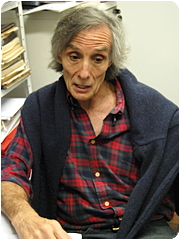 J.M.G: Esse ponto é fundamental para entender muitas das características que vão assumir cada um dos regimes democráticos imediatamente depois do ciclo militar: o tipo de problema político que esses governos democráticos vão encarar, com as violações dos direitos humanos cometidos na ditadura, bem como, com as violações de direitos humanos que se cometem na democracia. Então, há diferenças fundamentais que acontecem na natureza dos processos de transição. A ciência política normalmente distingue esses processos de abertura em dois grandes tipos: por ruptura ou por negociação.
J.M.G: Esse ponto é fundamental para entender muitas das características que vão assumir cada um dos regimes democráticos imediatamente depois do ciclo militar: o tipo de problema político que esses governos democráticos vão encarar, com as violações dos direitos humanos cometidos na ditadura, bem como, com as violações de direitos humanos que se cometem na democracia. Então, há diferenças fundamentais que acontecem na natureza dos processos de transição. A ciência política normalmente distingue esses processos de abertura em dois grandes tipos: por ruptura ou por negociação.
Portal: Que tipo de processos aconteceram no Cone Sul?
J.M.G: Na Argentina foi por ruptura. A forte crise social e a política econômica deslegitimada, aliadas à derrota na Guerra das Malvinas, impediram o governo militar argentino de negociar e, assim, impor uma série de garantias que condicionariam sua impunidade com relação aos crimes cometidos pela repressão. A partir daí, foram implantados dois mecanismos importantes. Em primeiro lugar, o julgamento dos três membros das juntas militares que governaram entre 1976 e 1986. Eles foram julgados por tribunais civis e condenados à prisão perpétua. Foi a primeira vez que isso aconteceu na América Latina. Em segundo lugar, criou-se uma comissão de verdade e investigação, não com vista à reconciliação nacional, mas sim para servir de base para a acusação da justiça punitiva pelos crimes cometidos pelos responsável das violações. O resultado foi um famoso relatório, chamado "Nunca Mais", divulgado em 1984. O documento virou um emblema para todos os movimentos de justiça de transição no mundo, inclusive no Brasil. Nunca mais, nunca mais tortura, nunca mais desaparecidos, nunca mais violações. Virou emblemático, um slogan do movimento dos direitos humanos. Depois desse impulso, o caso argentino, com revoltas militares, degringolou e o mesmo presidente que teve essa iniciativa fundamental, depois deu anistia para uma enorme quantidade de processos que se abriram com relação, não àqueles condenados, e sim contra 800 repressores que estavam envolvidos em ações civis, introduzidas por cidadãos. O presidente seguinte, [Raúl] Alfonsín, foi mais além e deu o indulto presidencial aos membros das juntas militares. Um perdão que não implica desmemória, ou seja, os crimes foram cometidos, mas a pena não vai ser cumprida. Isso significa que depois de ter dado um passo à frente, acontece uma regressão com relação à anistia e ao indulto. Em meados da década de 1990, outra reviravolta acontece. Com a nova ordem mundial cosmopolita, onde o sistema global de direitos humanos ganha uma legitimidade incrível, e os mecanismos de justiça transicional vão aumentando em distintas partes do mundo, inclusive na Europa do Leste e já na África. Com isso, uma nova onda relacionada a esses processos de transição é desencadeada. Isso repercutiu na América Latina. A Argentina é o primeiro lugar, e por isso a importância, onde se retomam essas lutas de reivindicação da verdade. Que pelo menos haja a verdade, já que a justiça não houve, por causa das anistias e dos indultos.
Portal: Como foi o processo nos outros três países?
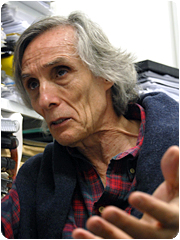 J.M.G: No Chile, no Brasil e no Uruguai foram processos de transição por negociação. Pactos, acordos sentados, forças políticas geralmente moderadas junto com aquelas também mais moderadas do regime militar, definindo a agenda da transição. Na negociação, o regime militar introduzia a lei de anistia desejando, em matérias de repressão, a impunidade e o esquecimento. Esses casos seguiram o modelo espanhol do final da década de 1970 que, até então, era o mais bem sucedido de transição por anistia, impunidade e esquecimento. Lá, ficou decidido que os crimes do franquismo não iriam ser revistos e nem lembrados. Olhariam para frente. Direitos humanos e democracia eram questões a serem tratadas, do ponto de vista histórico, somente a partir da transicão, não sobre o passado. Ou seja: impunidade jurídica e esquecimento político.
J.M.G: No Chile, no Brasil e no Uruguai foram processos de transição por negociação. Pactos, acordos sentados, forças políticas geralmente moderadas junto com aquelas também mais moderadas do regime militar, definindo a agenda da transição. Na negociação, o regime militar introduzia a lei de anistia desejando, em matérias de repressão, a impunidade e o esquecimento. Esses casos seguiram o modelo espanhol do final da década de 1970 que, até então, era o mais bem sucedido de transição por anistia, impunidade e esquecimento. Lá, ficou decidido que os crimes do franquismo não iriam ser revistos e nem lembrados. Olhariam para frente. Direitos humanos e democracia eram questões a serem tratadas, do ponto de vista histórico, somente a partir da transicão, não sobre o passado. Ou seja: impunidade jurídica e esquecimento político.
Portal: Mas quais as particularidades desses três casos?
J.M.G: A particularidade do Uruguai é que o presidente civil e as forças que negociaram a transição com os militares se comprometeram que a anistia dos crimes cometidos pela repressão seria sancionada não pelo governo militar, mas pelo primeiro governo civil. Coisa que aconteceu com uma lei do próprio Congresso uruguaio que havia sido recentemente instalado, em 1987. No Chile, houve uma saída negociada diferente, porque o primeiro presidente Patrício Alves era da democracia cristã e a Igreja teve um papel fundamental, como aqui no Brasil, de defender os direitos humanos durante a ditadura. Então, sendo um nome da democracia cristã, ele e a própria Igreja negociaram com Pinochet e com as forças do regime militar que não haveria julgamento e que a anistia permaneceria, mas uma comissão de verdade, diferentemente do que aconteceu na Argentina, que tinha o objetivo de punir, investigaria. O resultado foi um relatório. A experiência dessa fórmula chilena serviu fundamentalmente de exemplo para o que iria acontecer quatro anos mais tarde na África do Sul.
Portal: E no Brasil?
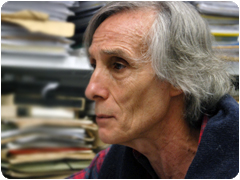 J.M.G: O caso Brasileiro foi diferente. Nas negociações, ficou resolvido que a Nova Republica não iria implantar nem punição, em função da lei, nem comissão de verdade. Então houve uma mobilização dos organismos dos direitos humanos para a produção desse relatório não-oficial. Uma militância acessou os arquivos do próprio Supremo Tribunal Militar, para ver os processos onde constam os presos, as torturas, os nomes. Foi daí que saiu o “Nunca Mais” brasileiro. Em meio a uma condição favorável no mundo todo e puxado na América do Sul pela Argentina, como foi dito, em meados dos anos 1990 a luta ganha um impulso maior. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso se instala a famosa comissão de mortos e desaparecidos, como iniciativa de reconhecimento do Estado sobre o que tinha acontecido. Isso foi importante porque gerou uma enorme busca que durou 11 anos. O relatório final foi um livro chamado Direito à Vida e à Memória, lançado em 2007. Isso foi, inclusive, motivo de uma série de crises que aconteceu até o 3° Programa de Direitos Humanos, em 2009, no governo Lula. Mas o fato, pelo menos, introduziu uma iniciativa de governo no tema, em conjunto com a persistente luta dos organismos de direitos humanos. Para que pelo menos haja algo de verdade, que algum ato seja tomado, porque o caso brasileiro, como o espanhol, foi o mais impune e o mais esquecido com relação aos crimes cometidos no passado. Na verdade, o pouco que foi esclarecido partiu, fundamentalmente, por iniciativa dos grupos e das lutas dos direitos humanos.
J.M.G: O caso Brasileiro foi diferente. Nas negociações, ficou resolvido que a Nova Republica não iria implantar nem punição, em função da lei, nem comissão de verdade. Então houve uma mobilização dos organismos dos direitos humanos para a produção desse relatório não-oficial. Uma militância acessou os arquivos do próprio Supremo Tribunal Militar, para ver os processos onde constam os presos, as torturas, os nomes. Foi daí que saiu o “Nunca Mais” brasileiro. Em meio a uma condição favorável no mundo todo e puxado na América do Sul pela Argentina, como foi dito, em meados dos anos 1990 a luta ganha um impulso maior. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso se instala a famosa comissão de mortos e desaparecidos, como iniciativa de reconhecimento do Estado sobre o que tinha acontecido. Isso foi importante porque gerou uma enorme busca que durou 11 anos. O relatório final foi um livro chamado Direito à Vida e à Memória, lançado em 2007. Isso foi, inclusive, motivo de uma série de crises que aconteceu até o 3° Programa de Direitos Humanos, em 2009, no governo Lula. Mas o fato, pelo menos, introduziu uma iniciativa de governo no tema, em conjunto com a persistente luta dos organismos de direitos humanos. Para que pelo menos haja algo de verdade, que algum ato seja tomado, porque o caso brasileiro, como o espanhol, foi o mais impune e o mais esquecido com relação aos crimes cometidos no passado. Na verdade, o pouco que foi esclarecido partiu, fundamentalmente, por iniciativa dos grupos e das lutas dos direitos humanos.
Portal: Quais os avanço no campo dos direitos humanos na América Latina?
J.M.G: Apesar de todas as violações citadas [vide parte I], não quero dizer que não há notáveis avanços nos direitos humanos. As lutas que rompem contra as ditaduras têm pela primeira vez um significado político: os direitos humanos. E, em nome dele, se mobiliza parte da sociedade civil, deslegitimando as ditaduras e criando uma base simbólica importante de implantação de um regime democrático. Mas o regime democrático não resolve os problemas dos direitos humanos. Faz alguns avanços. No entanto, os déficits ainda são enormes e às vezes há regressões. Há uma enorme indiferença em amplos setores da sociedade – quando não sentimentos de cumplicidade e omissão – e ação direta dos próprios Estados favorecendo isso. Basta acompanhar México, Venezuela, Colômbia, só fazer toda a trajetória que a gente vai ver, com, evidentemente, particularidades e alcances distintos. Aqui a gente toca em um aspecto central e que está em jogo permanentemente: o que acontece com os crimes de hoje, com relações às violações dos direitos humanos, com os mecanismos legais e jurídicos nacionais e internacionais, mas também o que se faz e o que se fez em torno dos crimes do passado, fundamentalmente das ditaduras militares. O que se chama “a problemática da justiça transicional”. Infelizmente o caso brasileiro é um dos mais atrasados na matéria, embora importantes avanços tenham sido realizados nos últimos 15 anos.
Portal: Depois do fim das ditaduras, como foi a mobilização para a produção de verdade e memória?
J.M.G: Tanto no Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, os movimentos e lutas dos organismos dos direitos humanos nunca pararam de reivindicar uma justiça para valer, punitiva sobre os responsáveis. Um direito à verdade do que aconteceu. Para descobrir quem foram os responsáveis, onde estavam os cadáveres dos desaparecidos, aonde e como aconteceu a repressão. Ou seja, ter o direito à verdade e o direito à memória, que esta não seja apenas individual e sim histórica, com relação ao que aconteceu no passado. Isso foi fundamentalmente travado tanto no Uruguai quanto no Brasil. Hoje, há toda uma série de iniciativas importantes a partir dos governos, mas sem mexer na anistia e mexendo pouco na questão da verdade, até porque grande parte dos arquivos não foram revelados e, até agora, existe muito pouco debate público sobre a memória. O recente decreto presidencial – que foi motivo de uma crise discretíssima que já passou –, no ano passado, onde o governo assumiu o 3° Programa Nacional de Direitos Humanos, foi um avanço. Ali está, finalmente, a famosa e controvertida Comissão de Verdade e de Reconciliação, pela primeira vez depois de 25 anos de fim da ditadura militar. Em relação aos países vizinhos, o Brasil é o último a chegar nesse ponto, mas o importante é que se judicializou o conflito interno e externo sobre a justiça transicional. Depois houve outro retrocesso: o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da constitucionalidade da lei de anistia, pelo argumento, absolutamente inacreditável, de que foi negociada anteriormente, como se a negociação tivesse sido entre iguais.
Portal: Já se passaram 25 anos do fim da ditadura militar no Brasil. Ainda há espaço para lutar pelo desvendamentos dessas informações?
 J.M.G: Não há página que se vire quando se trata de crimes do passado. As questões da história, da verdade, da memória e da justiça estão sempre em aberto, depende das lutas políticas e da opressão. Depende do que as gerações novas querem e lutam por saber o que aconteceu lá no passado. Não com um espírito arqueológico, mas para que esse passado sirva na organização do presente. Isso explica porque nesta primeira década dos anos 2000 houve um novo ciclo de intensificação do debate, em todos os países, tanto no Chile, no Uruguai, no Brasil e na Argentina. Esse processo que se iniciou de maneira tão diferente avança, recua, dá um pulo, ou seja, é uma coisa que está em aberto e depende muito da relação de forças que estão
J.M.G: Não há página que se vire quando se trata de crimes do passado. As questões da história, da verdade, da memória e da justiça estão sempre em aberto, depende das lutas políticas e da opressão. Depende do que as gerações novas querem e lutam por saber o que aconteceu lá no passado. Não com um espírito arqueológico, mas para que esse passado sirva na organização do presente. Isso explica porque nesta primeira década dos anos 2000 houve um novo ciclo de intensificação do debate, em todos os países, tanto no Chile, no Uruguai, no Brasil e na Argentina. Esse processo que se iniciou de maneira tão diferente avança, recua, dá um pulo, ou seja, é uma coisa que está em aberto e depende muito da relação de forças que estão
Portal: O Brasil pode ser condenado em um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que condenação é essa?
J.M.G: As vítimas e familiares, através de uma ONG, entraram como uma ação na Comissão dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), por omissão de investigação dos responsáveis pelo desaparecimento de pessoas, na Guerra do Araguaia, em 1972, e aí está o regime regional dos direitos humanos, onde a Corte Interamericana tem jurisdição sobre aqueles Estados que assinaram a convenção promovida pelo órgão. A comissão aprovou a ação e o Estado brasileiro perdeu, e até o fim desse ano, seguramente, será condenado, porque há uma jurisprudência assentada pela própria corte de que a anistia das ditaduras não garante impunidade. É uma sentença. A partir daí, o Estado tem que fazer alguma coisa. Claro que, nesse momento, o princípio de soberania pode aparecer. Talvez uma saída seja, no próprio cálculo do governo atual, criar uma comissão de verdade. Talvez seja. Eu acho que o mais interessante é ver as dinâmicas, as dialéticas que estão por trás disso. Há uma temporalidade que fica em aberto sobre as injustiças do passado e em função das disputas sobre esse passado. E você não consegue fechar como uma página virada. De algum modo, essa verdade tem que ser conhecida. Seja no sentido ético, pelas vítimas; seja um compromisso político com a própria sociedade e a democracia e tudo o mais; ou seja até por exigência de um órgão internacional. E é preciso que essa verdade seja dita a todos. Não é com o desconhecimento, não é ocultando, que feridas como essa se resolvem. Exorcizar isso é encarar a política, a justiça e a memória desse problema histórico.
Portal: Quais os desdobramentos dessa punição?
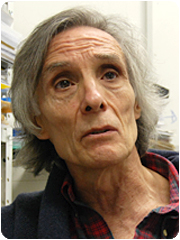 J.M.G: Acontecerá um fato novo. Isso gera desdobramentos que são imprevisíveis. Um pouco como a atitude de ida e vinda que vão nos comprovando como o passado não passa. De repente, reaparece sobre outras formas, com atores e linguagens dos mais diferentes, sobretudo quando se trata de uma justiça retroativa, de injustiças cometidas lá atrás a partir de lutas políticas repressivas. É o que aconteceu na Argentina: Néstor Kirchner ganhou em 2003 e embora não fosse alguém que podia estar identificado com os direitos humanos, em um fato político transformou isso em política de Estado e, por pressões e lutas políticas do grupo de direitos humanos, anulou pelo Congresso as leis de anistia. A partir daí deslanchou 800 processos, aqueles que tinham sido parado pela anistia, lá em 1987, pelo Afonsín, e retoma com os mesmo processos que já estão em andamento pedindo a condenação dos responsáveis que ainda estão vivos. É toda uma série de iniciativas. Esse fato novo também aconteceu no Chile. Com o julgamento de Pinochet, houve uma enxurrada de 300 ações individuais, embora ele tenha morrido antes de condenado. Mesmo assim, isso abriu espaço para grandes mudanças como uma nova geração de juízes que, interpretando a própria lei de anistia dada por Pinochet, em 1978, abriram uma brecha para começar a processar e a condenar notórios e elevados nomes do aparelho repressivo da ditadura. Ou seja, com a lei de anistia e uma nova interpretação, abre-se uma brecha e sobre ela pune-se os responsáveis maiores de assassinatos, torturas e desaparecimento. No Uruguai, acontece coisa semelhante, não a partir do próprio Judiciário, mas a partir de uma escolha um tanto estranha como política. Com o ex-presidente Tabaré Vázquez, eleito em 2005, determinados crimes foram processados, outros não. A lei de anistia continua, isso está decidido pelo primeiro governo democrático. No entanto, abre determinado tipo de espaço que permite incriminar aos que estavam em princípio anistiados. Então, você tem o caso do Uruguai que também avança sobre reparações como todos os países, mas também avança sobre a justiça punitiva, sobre os repressores. O primeiro presidente civil, responsável pelo desaparecimento, e julgado por isso, de dois senadores uruguaios que foram assassinados
J.M.G: Acontecerá um fato novo. Isso gera desdobramentos que são imprevisíveis. Um pouco como a atitude de ida e vinda que vão nos comprovando como o passado não passa. De repente, reaparece sobre outras formas, com atores e linguagens dos mais diferentes, sobretudo quando se trata de uma justiça retroativa, de injustiças cometidas lá atrás a partir de lutas políticas repressivas. É o que aconteceu na Argentina: Néstor Kirchner ganhou em 2003 e embora não fosse alguém que podia estar identificado com os direitos humanos, em um fato político transformou isso em política de Estado e, por pressões e lutas políticas do grupo de direitos humanos, anulou pelo Congresso as leis de anistia. A partir daí deslanchou 800 processos, aqueles que tinham sido parado pela anistia, lá em 1987, pelo Afonsín, e retoma com os mesmo processos que já estão em andamento pedindo a condenação dos responsáveis que ainda estão vivos. É toda uma série de iniciativas. Esse fato novo também aconteceu no Chile. Com o julgamento de Pinochet, houve uma enxurrada de 300 ações individuais, embora ele tenha morrido antes de condenado. Mesmo assim, isso abriu espaço para grandes mudanças como uma nova geração de juízes que, interpretando a própria lei de anistia dada por Pinochet, em 1978, abriram uma brecha para começar a processar e a condenar notórios e elevados nomes do aparelho repressivo da ditadura. Ou seja, com a lei de anistia e uma nova interpretação, abre-se uma brecha e sobre ela pune-se os responsáveis maiores de assassinatos, torturas e desaparecimento. No Uruguai, acontece coisa semelhante, não a partir do próprio Judiciário, mas a partir de uma escolha um tanto estranha como política. Com o ex-presidente Tabaré Vázquez, eleito em 2005, determinados crimes foram processados, outros não. A lei de anistia continua, isso está decidido pelo primeiro governo democrático. No entanto, abre determinado tipo de espaço que permite incriminar aos que estavam em princípio anistiados. Então, você tem o caso do Uruguai que também avança sobre reparações como todos os países, mas também avança sobre a justiça punitiva, sobre os repressores. O primeiro presidente civil, responsável pelo desaparecimento, e julgado por isso, de dois senadores uruguaios que foram assassinados
Portal: E por que o Brasil teve que esperar uma punição, enquanto outros países conseguiram achar uma brecha, para avançar?
J.M.G: Foi um acordo das elites. As elites do judiciário, políticas, militares, intelectuais, às vezes, ou seja, aqui vem a origem histórica das coisas. Uma história de pactos entre as elites permanente. De conciliação de algum modo, embora isso não signifique que toda a elite política aderiu, mas as forças principais sem dúvida. E quando a gente vê o próprio fundamento dado pelo Supremo, dizendo que a lei de anistia é absolutamente constitucional e que portanto não é possível iniciar processos contra torturadores, revela de forma cristalina essa velha cultura de conciliação que as elites desenvolvem ao longo da história brasileira. Mas não é só isso, é também a natureza da transição, a cultura de acordos e esse pacto de dominação que se renova. Depende muito dos avanços dos processos da justiça transicional, da convicção, do cálculo político, das elites políticas que conseguiram disseminar que, se a reparação for levada à frente, implicará em turbulência política, um espírito revanchista, podendo desestabilizar a democracia. No entanto, os casos, não só no Cone Sul, revelam que quando essa justiça de transição é levada à frente, gera elementos que consolidam simbolicamente a democracia. E não o contrário. Mas as nossas elites não estão muito de acordo com esse tipo de movimento, acham que o melhor é esquecer, não punir e, o que é fundamental, olhar para frente. Acho que o cálculo político também é: se as injustiças do passado começam a ser reviradas, isso vai gerar um baita problema caso sejam articuladas com as injustiças do presente.
Portal: Como o senhor avalia a posição internacional do Brasil com relação à defesa dos direitos humanos? A aproximação com líderes que violam o regime internacional dos direitos humanos legitima essas ações?
J.M.G: A posição do Brasil no cenário internacional tem sido extremamente salientada por observadores, especialistas e pela mídia em geral. Não por acaso que o papel do Brasil, em diversas iniciativas no G20, no próprio BRICs, se movimentando em numerosos fóruns, lhe valeu uma projeção globalmente muito grande e, não por acaso, a popularidade e a liderança do presidente Lula foram extremamente reforçadas pelos grandes jornais. Você vê pelas declarações de diversos líderes mundiais, e pelas capas de revistas e jornais mostrando essa projeção, até agora inédita. Isso significa muitas coisas. Dependendo das questões que estão em pauta, você pode ver enormes avanços e, em outras, um comportamento pragmático demais, com vista ao privilegiamento de determinadas questões. Conseguir a tão esperada cadeira permanente no Conselho de Segurança tem pautado grande parte das iniciativas brasileiras na cena internacional. Certamente o caso do Irã é um dos comportamentos levados à frente pelo governo atual, com relação a determinados parceiros, que não gozam de grande simpatia no plano internacional, talvez este seja o caso mais significativo. Isso começou com aquela tentativa falida de propor uma mediação dessa situação tão complicada na qual o Irã se encontra hoje, diante do seu próprio programa nuclear desenvolvido apesar das pressões e ameaças das grandes potências. Sem dúvida, o comportamento e o posicionamento do Brasil são lamentáveis, não apenas na postura, mas também na linguagem utilizada. A atual condução passa, em função de outros interesses, totalmente por cima do regime internacional dos direitos humanos.
Portal: Então a questão é a busca do assento permanente no Conselho de Segurança?
J.M.G: Tem tudo. Questões econômicas, políticas etc. Há vários objetivos que estão por trás dessa grande projeção do Brasil no cenário político internacional. A busca desse assento no Conselho de Segurança é considerada prioritária, assim como adquirir um papel relevante em determinadas situações altamente conflitivas como as do Oriente Médio e a da Ásia Central, e isso direciona as ações do atual governo. Estou dizendo que há outros interesses estratégicos em jogo. Uma orientação muito pragmática que tem pautado o governo Lula e o Itamaraty.
Portal: Então, as grandes potências podem criticar a postura do Brasil?
J.M.G: Isso não pode ser tomado como um álibi ou justificativa dessa atitude tão absolutamente errática do governo brasileiro atual, diante de determinados situações de direitos humanos que são escandalosas, mas ele não é o único a fazer isso. O país está em companhia das grandes potências que têm esse comportamento, quase, desde sempre, mantendo essa dupla linguagem: muito a favor dos direitos humanos, mas em determinados cenários de violações, até quando eles mesmos não são os violadores, apresentam um comportamento de absoluto silêncio e cumplicidade. Tem que se evitar os discursos parciais. Se trata de cobrar de todo mundo esse comportamento. Se há uma coisa que eu quero dizer é: não confiar nos Estados, eles são indispensáveis, mas também são a fonte primordial das violações dos direitos humanos.
+ Mundo
Liderança e influência digital de Papa Francisco ampliam número de fiéis
Ida de Obama a Cuba e Argentina indica guinada dos EUA
Nick Davies: "Hoje escolhemos o assunto que vai vender e que é mais barato de cobrir"
"Benefícios da redução do protecionismo argentino na economia brasileira não virão no curto prazo"
"De longe, compreendi a magnitude dos fatos"
Combate ao terror exige coalizão contra EI e políticas integradoras





