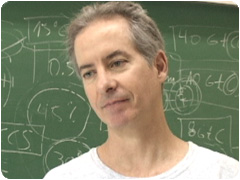
A reunião mundial marcada para 7 a 18 de dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, para debater a atualização do Protocolo de Kyoto, que expira em 2012, não será suficiente para concluir o processo. Um outro encontro, provavelmente em junho de 2010, torna-se a data limite para encaminhar as novas metas ambientais, afirma o professor Roberto Schaefer nesta entrevista exclusiva ao Portal PUC-Rio Digital. Um dos representantes brasileiros no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas, Schaefer esteve na PUC-Rio na quinta-feira, 29, a convite do professor André Trigueiro, da disciplina de Jornalismo Ambiental. O especialista da Coppe (UFRJ) aponta como principal entrave ao consenso a curto prazo a chance restrita de o Congresso dos Estados Unidos referendar um novo acordo ainda em 2009: “Não é razoável fechar um acordo mundial sem a presença americana.”
- A reunião a ser realizada em dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, é a última antes do encontro em que será prorrogado o protocolo de Kyoto?
- Kyoto faz menção ao período 2008-2012. Dada a inércia das negociações, acredita-se que agora, em 2009, ou, no máximo, em 2010, é quando, de fato, os países teriam que fechar algum acordo em tempo hábil para entrar em vigor em 2013. Não é uma coisa fechada, mas é a percepção, o conhecimento do processo. Kyoto, por exemplo, foi negociado em 97 para entrar em vigor onze anos depois. Então, já se está correndo contra o tempo. Seria interessante que, já agora, em 2009, se fechasse algo. Dado que não é razoável – como Kyoto não foi razoável – fechar um acordo mundial sem a presença americana, provavelmente não haverá tempo para, em Copenhague, os Estados Unidos assumirem compromisso, porque votaram recentemente na Câmara uma proposta de redução doméstica de emissões. Essa proposta, ou semelhante, foi encaminhada ao Senado, mas não foi votada ainda. Quando for aprovada, Câmara e Senado precisam sentar juntos para fechar uma proposta comum, que seria a proposta americana. Provavelmente, não vai dar tempo de tudo isso ocorrer nas próximas quatro semanas. Não dando tempo, não há como os Estados Unidos assumirem qualquer tipo de compromisso em Copenhague. Sem os Estados Unidos dentro, não vai ser possível fechar nada. Já há uma discussão, em off, do pessoal envolvido, de que provavelmente Copenhague não dará em nada, ficará em aberto, e haverá uma Copenhague 2, em junho do ano que vem, quando os Estados Unidos estariam preparados para ter uma posição e se poderia fechar um novo acordo internacional. Essa é a expectativa de algumas pessoas. Outros até acreditam que dará tempo de os Estados Unidos terem uma posição. Eu não acredito. Acho que não vai sair nada de Copenhague.
- Qual é a perspectiva em relação ao presidente Barack Obama? A eleição dele foi cercada de uma expectativa de mudanças e houve a recente premiação com o Nobel da Paz...
- Obama, como qualquer novo presidente, quando chega ao poder, tem uma pauta muito grande e há prioridades que ele tem que atacar. Como ele assumiu os Estados Unidos após uma grande crise econômica, muito mal das pernas, há prioridades no seu governo. A primeira não é mudança climática. E nem é culpa dele. Em qualquer regime democrático, é preciso se sujeitar um pouco ao que o Congresso percebe como interessante. Neste momento crítico da economia americana, a prioridade é a aprovação de uma nova legislação na parte de saúde. Diferentemente do Brasil, lá não existe um órgão como o INPS, o INAMPS, e um contingente razoável da população americana não tem qualquer tipo de plano de saúde. Com esse aumento do desemprego, a questão de saúde pública nos Estados Unidos é muito crítica. Uma das outras grandes questões é a mudança climática. Mas há um processo democrático, em que o Obama mandou para os deputados um projeto de lei endossado por ele. Foi aprovado e encaminhado ao Senado. Aparentemente, se Senado e Câmara dos Deputados não chegarem a um acordo, o Obama deve propor algo em paralelo, algo via EPA (Agência de Proteção Ambiental), um órgão equivalente ao Ministério de Meio Ambiente nos Estados Unidos. Eventualmente, o EPA poderia começar a criar legislações ambientais, como exigir que térmicas a carvão ou carros emitam menos. Seria quase uma legislação ambiental focando no gás carbônico, não uma política americana de redução de emissão. Esses são os dois caminhos com que se está trabalhando. O que vai dar, ninguém sabe ainda, porque, novamente, em um país em crise econômica como os Estados Unidos, uma preocupação como a mudança climática, algo que já nos afeta hoje, mas que vai nos afetar nos próximos 30, 40, 50 anos, não é a primeira prioridade.
- Isso pode representar algum entrave ao acordo? E não apenas os Estados Unidos, mas também a China, com o crescimento acelerado, e a Rússia?
- Cada país tem motivações diferentes. Quando a Europa se propõe à redução de emissão, é porque eles já, internamente, viram o que podem fazer e a que custo. Quando os Estados Unidos não quiseram aderir a Kyoto, foi porque, internamente, acharam que tinham mais a perder do que outros, como Japão ou Europa. O caso da China é bem emblemático, sim. Há os ditos países Anexo 1, os países desenvolvidos, que concordaram com metas em Kyoto e seguramente concordarão com novas metas, mais duras, em Copenhague ou no pós-Copenhague. E há três países que são muito emblemáticos e estão frequentemente sendo questionados a terem metas. São Índia, China e Brasil. Cada um deles tem suas motivações, cada um deles enxerga o seu umbigo de maneira diferente. Para a China, diminuir suas emissões seguramente tem um impacto muito grande sobre o seu desenvolvimento econômico. A Índia, provavelmente, também. O Brasil, não. Hoje, a grosso modo, 60% das emissões brasileiras vem de desmatamento. E há pouquíssima relação no Brasil entre o desenvolvimento da economia e o desmatamento. Então, já há um certo consenso, uma certa união nacional, para diminuir o desmatamento, o que levará a uma redução de emissão. O Brasil é um dos poucos países do mundo que, provavelmente, podem reduzir as suas emissões sem nenhum tipo de sacrifício ou impacto negativo em sua economia. Índia e China, não. Então, a grande tensão de Copenhague é essa. Você tenta chegar a um acordo internacional em que os países terão que concordar em reduzir o nível de emissão, mas em que, claramente, cada país terá um custo diferente para fazê-lo. E cada país vai tentar tirar o máximo possível na negociação. O Brasil deve ter uma posição que talvez seja bastante diferente da chinesa e da indiana. O que faz com que a gente não saiba se o Brasil vai se alinhar com os países Anexo 1, que têm hoje obrigação de redução de emissão, ou se vai preferir se alinhar com os seus tradicionais aliados China e Índia e ter uma atitude mais leniente, menos rigorosa.
- Com o crescimento do G-20, em substituição ao G-8, você acredita que o Brasil possa ter um papel determinante nesses encontros?
- O Brasil, em Kyoto, teve um papel muito importante. O MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi criado em Kyoto e prevê que países desenvolvidos possam reduzir suas emissões através da compra de créditos de carbono de um país em desenvolvimento, é uma invenção brasileira. O Brasil, até 1997, tinha uma posição de muita liderança nas negociações climáticas. De lá para cá, o Brasil perdeu um pouco essa liderança. E há uma grande chance, agora, em Copenhague, para essa liderança ser recuperada. Isso porque no Brasil se começa a discutir muito, internamente, essa questão da diminuição do desmatamento. E o Brasil passaria a querer usar isso como uma moeda de troca para conseguir algum tipo de financiamento para ajudar nessa tarefa. É possível, sim, imaginar o Brasil em uma posição de protagonismo, já pensando em G-20, em uma possível participação sua no Conselho de Segurança da ONU, até pelo crescimento da economia brasileira recente, pelo próprio papel que o Lula emblematicamente representa para os governos mais de esquerda, podendo conduzir um país sem levar a rupturas. O Brasil voltou a essa posição, com a questão de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Em certo sentido, parece que o Brasil está em um bom momento de visibilidade internacional, à parte a questão de helicópteros sendo derrubados, essa situação que pegou muito mal. Mas, de maneira geral, o Brasil volta a ter uma posição de destaque no mercado mundial que há muito tempo não tinha. Eu estive na Europa e nos Estados Unidos nas últimas semanas. Há várias leituras de que poucos países vão sair tão fortalecidos desta crise econômica quanto o Brasil. Eventualmente, China e Índia também. São países que não foram negativamente afetados ou tão afetados pela crise e estão sabendo se posicionar melhor no mundo neste momento. Então, eu acho que essa questão de Copenhague, se o Brasil aproveitar bem, pode gerar dividendos políticos e econômicos muito grandes.
- Você acredita que o programa de créditos de carbono é realmente uma solução viável ou, de certa forma, prorroga o problema?
- O crédito de carbono, no fundo, não tem função de redução de emissão. Na verdade, é um jogo de soma zero. Mas o que significa o crédito de carbono? Vamos dizer, por exemplo, que a França emite 100, mas a sua meta é emitir só 80. Então, a França tem que reduzir essa emissão em 20. Como vai fazer isso? Ou ela faz algo para reduzir em 20, como carros mais eficientes, ou vai comprar créditos de carbono de um país que não tinha obrigação, mas que vai reduzir e vender essa redução de emissão. Então, a França, em vez de reduzir 20, continua emitindo os seus próprios 100 e o Brasil, em um aterro sanitário, em vez de emitir 100, emite 80 e vende o crédito para a França. No fundo, se não houvesse o crédito de carbono, a França teria que reduzir essa emissão. Para o mundo, ter ou não crédito de carbono não faz a menor diferença. A diferença que faz é que, teoricamente, o crédito de carbono ajuda que os países cumpram suas metas a um custo mais baixo do que se tivessem que cumprir suas metas apenas domesticamente. Há pessoas que afirmam que a França não teria concordado em reduzir sua emissão de 100 para 80 se não houvesse o crédito de carbono. Porque, na conta dela, de ir de 100 para 80, ela só aceitaria isso se pudesse comprar o crédito do Brasil. Então, a gente não consegue saber em que medida o crédito de carbono ajudou a que os países aceitassem metas mais rigorosas de emissão ou se não serviu para nada e simplesmente é uma maneira de o país fazer a um custo mais baixo o que faria de qualquer maneira.
- Mas, de certa forma, não estimula esses países a não diminuírem o ritmo de crescimento até que chegue o momento em que não tenham mais possibilidade de comprar créditos de carbono?
- O pessoal que critica créditos de carbono olha um pouco esse lado. Na verdade, o crédito de carbono permite que se compre o direito de continuar a fazer tudo igual. Vamos dizer que a França – é exemplo, não tem nada a ver com a França – em algum momento tenha que reduzir sua emissão. O crédito de carbono está adiando o momento de fazer isso e, eventualmente, está até fazendo com que o país perca a chance de fazer isso mais cedo e talvez de maneira até mais eficiente, melhor. Há críticos que falam isso mesmo. O crédito de carbono está dando tempo para os países não se ajustarem e não está fazendo nada de bom para isso. É como se alguém com dor de dente tivesse que decidir entre ir ao dentista e tomar um analgésico. O crédito de carbono é o analgésico. Você está empurrando o problema com a barriga. Ele não resolve o problema porque o remedinho está funcionando. Na hora em que o remédio perder o efeito, ele terá que ir ao dentista, mas, até lá, já perdeu o dente. É um pouco isso, sim. Não é claro se o crédito de carbono ajuda a resolver o problema hoje às custas de se criar um problema talvez ainda maior no futuro. É difícil responder isso.
- Qual é o panorama atual da implantação de matriz energética limpa?
- Dentre as estratégias possíveis para se reduzir emissões de caráter estufa, a questão mais relevante é a da energia. O Brasil é um caso particular, onde 60% das emissões, a grosso modo, vem do desmatamento. No mundo, em geral, 80% é energia e só 20% é desmatamento. Para se reduzir a emissão do mundo, há duas opções. Uma é utilizar o combustível fóssil de maneira muito mais eficiente, fazer mais com menos energia, que pode ser energia do mesmo tipo. A outra, que pode ser implementada conjuntamente, é cada vez mais sair de energias sujas para energias mais limpas. É aí que entram as fontes renováveis de energia. A única maneira de o mundo reduzir violentamente suas emissões é usar menos carvão, petróleo, gás natural, e cada vez mais energia solar, eólica, biodiesel, etanol. O mundo terá que migrar para fontes alternativas de energia. A questão é se há espaço no mundo para se ter o padrão de consumo que se tem hoje ou que vai se elevar com o tempo, à medida em que Índia, China e mesmo Brasil jogarão cada vez mais pessoas no mundo para consumir energia. A questão é se as fontes alternativas vão conseguir entregar toda essa energia que o mundo precisa. Não é razoável imaginar que há espaço no Brasil para plantar cana para todos os carros do mundo andarem a álcool. Não dá. Acho que a fonte alternativa tem um papel a cumprir, sim, mas, simultaneamente, o mundo terá que aprender a viver com menos energia. Porque só fonte alternativa, em princípio, não irá resolver o problema.
- Na prática, o que o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, podem provocar na vida das pessoas? Teremos cidades inundadas?
- Quando se pensa mais a longo prazo, se trabalha com modelos matemáticos que simulam as condições do planeta. Quando a gente fala que a temperatura está aumentando, não significa que vá ficar quente de repente. O cenário que a gente tem é ao longo dos próximos 10, 20, 50 anos. A gente hoje está olhando até 2100. Então, nesse intervalo até 2100, fala-se de temperaturas 2, 3, 5 ou 6 graus centígrados mais quente, na média. Dependendo do nível a que cheguem, de fato se começa a ter impacto nos mais diferentes ramos da economia. Por exemplo, saúde pública. Pessoas idosas ou debilitadas sofrerão mais com temperaturas mais quentes. Nos Estados Unidos, quando se tem 42 graus em Nova Iorque, uma porção de velhinhos morre. No mundo, tem muitos obesos. Eles vão sofrer mais. Novos tipos de parasitas, vermes, vírus, bactérias. É claro que novas temperaturas, novas situações climáticas, levam ao aparecimento de novas doenças. Ninguém está falando que esse vírus da gripe suína é isso, mas existe essa questão. A agricultura. Uma coisa é a gente saber que a agricultura de hoje alimenta o mundo. Em um mundo 3 ou 4 graus mais quente, não quer dizer que a soja vai crescer como deveria, não significa que, em um lugar onde você pode plantar hoje, poderá plantar depois. Então, vai ter impacto, sim, sobre a agricultura. A questão de regiões costeiras. A maior parte dos países e das cidades do mundo, não é por acaso, está no litoral ou perto de grandes corpos d’água, rios grandes, porque você precisa de água. Se o IPCC falava, em 2007, que, de agora até o final do século, a altura média dos oceanos vai subir entre 20 e 60 centímetros, esses números já estão sendo reavaliados para entre meio metro e um metro. Então, seguramente isso tem uma implicação. Talvez não vá ser Ipanema, Leblon, Copacabana, mas a Baixada Fluminense e outras regiões serão alagadas. Bangladesh é um país com uma população mais ou menos do tamanho da do Brasil, quase 200 milhões de habitantes, onde a maior parte do território não está mais do que 30 centímetros acima do nível do mar. Já se prevê um oceano 30, 40, 50 centímetros mais alto e centenas de milhões de pessoas serão refugiadas ambientais, não terão onde morar e precisarão ir para algum lugar. É difícil saber o que esperar. Por isso é que, quando os cientistas falam em deixar a temperatura do planeta subir só 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial, é o número que a gente consegue entender o quanto os oceanos vão subir, como a agricultura será afetada. Mais do que isso, começa a entrar em um terreno que a gente desconhece. Nenhum de nós aqui vai ter sua casa alagada nos próximos 30 ou 40 anos. Estamos falando de um problema que tem um atraso temporal. O problema não é agora, é 2020, 2030, 2040, 2050. Essa é a dificuldade em lidar com esse problema. A decisão tem que ser tomada hoje, mas sobre impactos que virão com o passar do tempo, não imediatamente. O que a pessoa vai sentir, diretamente, é difícil dizer. É difícil precisar em que medida esse aumento de frequência de ventos fortes, minifuracões ou tornados, que a gente tem tido no sul de Santa Catarina, já são sinais de mudança climática. No entanto, cenários de longo prazo no Brasil mostram que, se um dia o país vier a ter furacões, a região mais provável é Santa Catarina. Então, várias coisas que a gente começa a ver hoje, um clima meio esquisito, não dá para dizer que já sejam mudança climática. Mas batem bastante bem com o que se espera de mudança climática, que é frequência e intensidade maiores de eventos climáticos extremos. É de se esperar chuvas mais intensas, ventos mais fortes. Não quer dizer, porque ventou muito ontem, que já seja mudança climática. Mas nos dá uma ideia do que a gente pode, provavelmente, esperar lá para frente.
+ Meio Ambiente
"Acordo climático é tão urgente quanto planejamento urbano"
Produção sustentável exige melhor educação ambiental
Para evitar outras Marianas, é preciso revisar leis e fiscalizações
Pendências para avanço da resiliência no Rio de Janeiro





